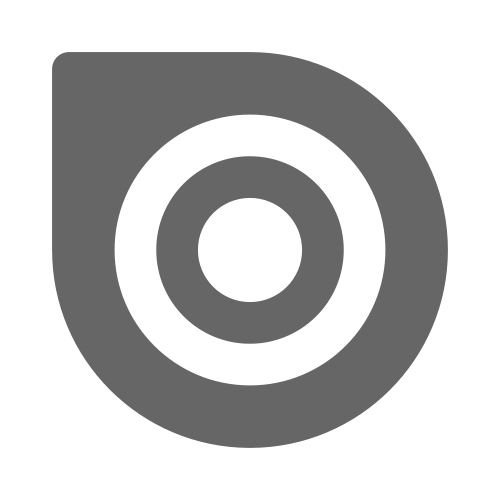A vergonha da linguagem
Dizia Deleuze que o pensamento, nas suas condições actuais, começa com a vergonha. Não com o espanto, o enigma ou o mistério das coisas, não com esses belos movimentos da alma que equilibram a nossa relação ao mundo, mas com essa estranha Stimmung que o vem arruinar, com uma fúria, uma revolta — não defendia Furio Jesi que a revolta suspende o tempo histórico, ao contrário da revolução, que se encontra imersa nele? —, com uma certa violência contra modos de ver, de pensar, de agir e de escrever, que não é uma violência contra o ver, o pensar, o agir ou o escrever. Vergonha pelo mundo, certamente, mas também vergonha por nós próprios, vergonha pelo facto de sermos constantemente obrigados a negociar e a estabelecer compromissos.
«E a vergonha de se ser homem, não a experimentamos apenas nas situações extremas descritas por Primo Levi, mas em condições insignificantes, perante a baixeza e a vulgaridade da existência que assombra as democracias, perante a propagação desses modos de existência e de pensamento-para-o-mercado, perante os valores, os ideais e as opiniões da nossa época. A ignomínia das possibilidades de vida que nos são oferecidas surge do interior. Não nos sentimos fora da nossa época, antes pelo contrário estamos constantemente a estabelecer com ela compromissos vergonhosos. Este sentimento de vergonha é um dos mais poderosos motivos da filosofia» (Gilles Deleuze, 1992, pp. 96–97).
É contra o ignóbil que se escreve e se pensa — «e o único meio de escaparmos ao ignóbil é fingirmo-nos animais (grunhir, gargalhar, ter convulsões): o próprio pensamento está mais próximo às vezes de um animal moribundo do que de um homem vivo, mesmo que democrata» (Gilles Deleuze, 1992, p. 97) — contra o vergonhoso, que tanto é esse pensamento-para-o-mercado, mesmo quando transborda de boas intenções (e ele está sempre cheio de boas intenções, é sempre democrata), quanto o anacronismo nostálgico ou mesmo uma certa retórica transgressora — não são vergonhosos aqueles que se julgam imunes, aqueles que correm lançando o lamento «mamã, sou diferente»? será que não conseguem perceber que a sua diferença é aquele vazio pobre do subjectivismo que Sartre descobria em Baudelaire, e que nada há de mais vergonhoso do que esse subjectivismo vazio e narcisista?
Para Sousa Dias, tal como para Deleuze («Não nos falta comunicação, antes pelo contrário, temo-la em excesso, falta-nos criação. Falta-nos resistência ao presente» (Gilles Deleuze, 1992, p. 97), o carácter vergonhoso do nosso tempo encontra-se na comunicação. Se se refere tantas vezes aos nomes já consagrados pela história (Cézanne, Klee, Ozu, Proust, etc.) através do epíteto «grande» ou «génio», é menos para reforçar essa consagração, menos para reforçar um qualquer cânone, seja ele literário ou pictórico, menos para cair num gesto nostálgico, do que para sublinhar o carácter intempestivo desses escritores, poetas, pintores ou filósofos, para os salvar tanto da consagração de uns quanto do esquecimento de outros — e é preciso tantas vezes salvá-los tanto de uns como de outros, não se sabendo bem quem é pior —, para ir buscar neles essa resistência ao presente de que fala Deleuze. Contra a vergonha da comunicação, portanto, que tanto dirige a consagração, retirando-lhes qualquer intempestividade, como o esquecimento, sob a forma do novo e da novidade, este conjunto de ensaios, que vão do cinema (Forman ou Ozu) à pintura (Cézanne), passando pela literatura (Proust), pela música ou pelo pensamento (Carlos Couto Sequeira Costa), pretendem seguir o fio do intempestivo nas diversas formas que, tanto nuns como noutros, foi adquirindo.
«A arte não é comunicação. Comunicar é comunicar com um público como entidade dada, actual, preexistente. Ao passo que a arte convoca um povo que não está aí, que está em falta, e que há que fazer existir pela arte. A grande arte descomunica em relação aos públicos que já existem, tanto quanto se dirige a uma comunidade por vir ou, para utilizar neste contexto termos de Agamben, a "uma comunidade que vem". A arte antecipa por si mesma a revolução, é a revolução prefigurada, anunciada, exigida» (Dias, 2016, p. 16).
Prefigurar, anunciar e exigir — mas será a mesma coisa? Tratar-se-á do mesmo, prefigurar, de um lado, ou anunciar e exigir, de outro? E que tipo de anúncio ou de exigência se encontra aqui em causa? De que forma é que o apelo — «Mais: é o próprio apelo explícito da arte moderna a um povo em falta que inspira uma leitura retrospectiva como sempre já um tal apelo silente de toda a arte do passado» (Dias, 2016, p. 13) — ou a intimação — «É dessa possibilidade (de vida) e desse devir (devir supra-humano do homem) que cada obra de arte é objectivamente a intimação» (Dias, 2016, p. 11) — podem prefigurar o que quer que seja, principalmente um povo que falta e em falta, podem ser a «precursão dessa comunidade» (Dias, 2016, p. 11), no que isso tem de antecipação, e de antecipação de um tempo determinado e, pior, determinável?
É preciso separar e distinguir essa lógica da promessa, apelo e intimação de um povo por vir no que isso tem de imprevisível e de inantecipável, povo em falta e ausente, povo que é objecto de apelo enquanto ausente e na medida em que é sempre ausente — e porque não falar, antes, de uma percussão e não de uma precursão, ao mesmo tempo de um choque, de um embate, mas também de um chamamento, de uma invocação dirigida ao espectro? — de uma outra lógica que se parece insinuar de cada vez que o povo em falta é objecto de precursor ou de prefiguração, de cada vez que ele é antecipado de forma determinada.
Rui Chafes, que, em conjunto com Rui Nunes, na escrita, Nozolino, na fotografia, ou Pedro Costa no cinema, é um artista profundamente político, não afirma outra coisa:
«Voltando à questão da componente política da arte, é óbvio que há momentos em que as pessoas, e também os artistas, têm de protestar com o que se está a passar no mundo, dizer o que pensam, dizer "já chega!"» (Chafes & Matos, 2015, p. 43).
Mas isto não chega, e daí não se segue que uma arte apostada na denúncia ou no protesto seja sequer arte — e não é sequer arte porque pretende agir, pretende modificar, pretende ser política no sentido de conformidade a fins. Enfim, diz-nos Chafes, é preciso dobrar esse protesto com uma impotência — não uma autonomia, entendamo-nos, mas uma impotência.
«Acredito que a vulnerabilidade da arte é uma parte importante da sua força e do seu poder. A sua impotência perante as acções do mundo é a sua afirmação. O facto de mostrar ou de afirmar um posicionamento «contramundo», fazer uma escolha ou uma recusa, é profundamente político. Por isso, prefiro dizer que o meu trabalho afirma um campo de recusas que, em si mesmo, enquanto recusas, podem ser consideradas políticas» (Chafes & Matos, 2015, pp. 43-44 sublinhados do autor).
Não é isto, em última análise, que se encontra em causa no que Sousa Dias intitula de «descomunicação»? É preciso uma recusa obstinada face ao carácter vergonhoso do mundo, um bartlebyanismo rigoroso e severo, uma violência inaudita:
«A nossa resposta é: o cinema pensa, ou dá qualquer coisa a pensar através da imagem cinematográfica, na medida em que a imagem faz violência. O cinema configura-se como pensamento, e faz pensar, através da violência da imagem» (Dias, 2016, pp. 168, sublinhados do autor).
Este povo por vir decorre dessa violência da imagem (mas também da escrita, da pintura, da escultura, do próprio pensamento) na medida em que ela é um «campo de recusas», um «contramundo» que pretende criar uma disjunção no nosso presente: contra o presente, contra qualquer presente, a obra de arte não é da ordem do intemporal (se fosse do âmbito do eterno nunca poderia ser impotente), mas da «atemporalidade, [de] uma resistência ao tempo» (Dias, 2016, p. 10).
«Mas também nunca houve criação artística, nos seus vários domínios, para a qual essa resistência não significasse em primeira instância uma reacção de cada criação ao seu próprio tempo histórico, uma ostensiva inactualidade, uma contraposição espiritual até quando se tratava de glorificar o espírito do tempo — que não fosse, em suma, a expressão de um "ainda não" como tempo visado por essa criação» (Dias, 2016, p. 10).
Esta resistência ao tempo não passa, como já foi realçado, por denúncias ou protestos — quanta estupidez, mesmo bem-intencionada, não pretende ser arte política? — mas por essa recusa obstinada que pode, inclusive, recusar a política, recusar qualquer conteúdo político, ao mesmo tempo que afirma o segredo e a promessa.
Segredo e promessa não são termos de Sousa Dias — ou melhor, a promessa é também um termo dele, mas não achamos possível a promessa fora de uma estrutura do segredo. Podemos, todavia, perguntar se eles não servem para pensar o que se encontra em causa na «descomunicação» que a obra de arte impõe, na recusa da obra de arte face às lições da comunicação.
Porque, compreendamos, a comunicação está constantemente a dar-nos lições. Pressupõe, por exemplo, uma distribuição de lugares de onde se fala, pressupõe sujeitos que possuem a linguagem — e cujo lugar não pode ser criado por esta —, pressupõe um espaço de encontro transparente, sem atrito, pressupõe a boa vontade daquele que fala. Não está a arte nas antípodas disto? Não começa ela, no seu momento modernista, por se desembaraçar de qualquer «querer-dizer», de qualquer narratividade, por recusar qualquer linguagem, abrindo esta última a outras possibilidades? Não começa ela por esburacar o espaço, por criar desfasamentos, não começa ela por uma afasia que nenhuma comunicação consegue curar?
«O impressionismo reinventa a pintura, a imagem pictórica, como espaço óptico puro. Ou seja, como espaço puramente visual, puramente pictural, desnarrativizado, como um espaço de onde foi erradicado toda a narratividade, todo o "querer-dizer", toda a tradicional retórica da imagem e os correlativos códigos estéticos. A imagem deixa de querer dizer seja o que for, deixa de ser narrativa, ilustrativa, simbólica ou alegórica» (Dias, 2016, p. 92).
É neste momento que entram as considerações de Sousa Dias sobre a crítica de arte. Esta não está do lado do público e da comunicação, mas do lado da obra e do povo por vir, e tem como objectivo mapear o inactual e o intempestivo, isto é, «aquilo que, no presente, e contra o presente, abre futuro, hipóteses de futuro» (Dias, 2016, p. 254) — este futuro será sempre da ordem da recusa de que falava Chafes, e nunca da ordem da política, por mais bem-intencionada que seja. Haverá algo mais vergonhoso que uma crítica que desconheça o lado intempestivo das obras, que as faça entrar no jogo do querer-dizer, que as subsuma à pobreza da comunicação?
Este lado intempestivo não é subsumível ao conhecido/desconhecido, ao contrário do que parece defender Sousa Dias: «dar visibilidade, dar existência pública, ao que, sem ela (a crítica), se arriscaria a passar despercebido, olvidado sob o fluxo de produção comercial ou das escolhas do "mercado"» (Dias, 2016, p. 253). O inactual varre tanto o conhecido como o desconhecido, tanto o actual como o que passa despercebido. Não se trata, desta forma, da crítica como função do grande nome — da escrita, da pintura, da escultura ou da música. Tal modalidade tornou-se, aliás, absolutamente vazia, numa época em que a função-autor, tão debatida por Barthes ou Foucault, cortou qualquer ligação com a obra. Basta pensar que, para Foucault, a função-autor servia para dar coerência a um conjunto mais ou menos extenso de escritos ou de obras e para instaurar a dimensão de um sentido, mais ou menos velado, que percorreria, de uma ponta a outra, esses escritos ou essas obras. Pelo contrário, e depois da crítica de Foucault e Barthes, chegámos ao ponto em que a função-autor desapareceu da obra, mas para reaparecer noutros lugares — hoje, um escritor já não precisa de escrever para adquirir capital simbólico, para ocupar certos lugares no discurso, e o escritor que já nada escreve é a figura acabada, o limite, da autonomização da função-autor.
Mas se a crítica já não pode ser uma função do grande nome isso não implica que ela se coloque do lado daquilo que não permanece desconhecido — na maior parte das vezes há boas razões para que aquilo que é desconhecido permaneça desconhecido.
Talvez o equívoco resida na formulação de Sousa Dias, quando afirma que a função da crítica é «criar um público para o que, no presente, aponta já para lá do presente» (Dias, 2016, p. 353). Criar um público, em que sentido? Não implica o público a estabilidade da linguagem, uma distribuição prévia de lugares, não implica sempre sujeitos que antecedem a obra de arte, não implica acabar, de vez, com o acontecimento que é inerente à obra, destruir o segredo e a cesura inaugurada pela obra de arte?
«Ainda não» é o tempo — sempre impróprio e inapropriável — da criação. Mas é igualmente a temporalidade da própria crítica, como um «demasiado tarde» que marca a irrupção do desfasamento e da cesura na linguagem (e da linguagem), obrigando-nos (mas o que designa esse «nós» e quem é designado por ele?) a uma experimentação sem limites que tanto é aquela da obra de arte como a da crítica, que deve começar sempre por se perguntar pelas condições de aproximação — que deve sempre perguntar-se: como, e com que linguagem, nos podemos aproximar, como responder ao acontecimento singular e único da obra de arte? Mas já não há público aqui, há apenas a disseminação da, e pela palavra, há apenas ausência de linguagem comum, ausência de mundo que assegure um lugar estável de aproximação; há uma experiência do comum, mas não já, ou não ainda, uma política, como diria Jean-Luc Nancy.
Não é isto, em última análise, a tarefa da crítica, disseminar a palavra, criar distância e espaçamento? Não será isso que a crítica faz chegar à obra de arte, não é isso que ela dá, dando aquilo que não é dela e que já estava contido na obra — isso que corresponde ao lance amoroso, à aposta amorosa da crítica.
Fontes:
Chafes, R., & Matos, S.A. (2015). Sob a pele. Lisboa: Documenta.
Dias, S. (2016). O Riso de Mozart. Música Pintura Cinema Literatura. Lisboa: Documenta.
Gilles Deleuze, F.G. (1992). O que é a Filosofia? Lisboa: Editorial Presença.
João Oliveira Duarte, in Caliban, 7/11/2016


© 2014. Sistema Solar. Todos os Direitos são reservados - Política de Privacidade | Livro de Reclamações Digital
|